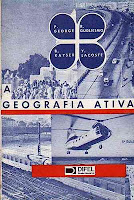Entrevista com o professor Maurício de Almeida Abreu
Geosul - Hoje dia 29 de setembro de 2005, durante o Encontro da ANPEGE, em Fortaleza, vamos começar a entrevista com a clássica pergunta: onde você nasceu, como era sua família, seus primeiros anos.
Prof. Maurício - Eu nasci no Rio de Janeiro, em dezembro de 1948, filho de um casal de classe média. Fiz o colégio primário em escola particular, mas depois completei minha formação de ginásio e colegial no Colégio Pedro II, um colégio federal, naquela época - e ainda hoje - de muito difícil ingresso. A seleção para o colégio era feita por um tipo de vestibular, a que se submetiam as crianças de 11 anos, chamado àquela época de “exame de admissão”. No ano em que fiz esse exame eram, se não me engano, cerca de 20.000 candidatos para cerca de 1.000 vagas. O colégio (como ainda hoje) tinha uma sede na área central, inaugurada no século XIX, durante a Regência, e três “filiais” em bairros do Rio de Janeiro. O Pedro II era conhecido como “colégio padrão” porque seus currículos serviam de orientação aos demais colégios secundários do país. Todas as disciplinas ali lecionadas possuíam catedráticos e eu tive lá mestres de altíssimo gabarito. Hoje ainda é um colégio importante, mas não é mais o que foi. Posso dizer que tive uma formação secundária muito boa, pública e gratuita. Foi no Pedro II que comecei a me interessar por geografia. Mas voltando à infância, meu pai era contador e trabalhava para uma empresa americana de publicidade, a J. Walter Thompson. Minha mãe era dona-de-casa, formada em piano, falava um pouco de rancês; meu pai falava um pouco de inglês e lia muito bem o latim, pois pensou inicialmente em ser padre. Enfim, venho de uma família de classe média culta.
Geosul - Você tem irmãos?
Prof. Maurício - Tenho dois irmãos. Sou o mais moço, meio temporão. Era a típica família de classe média; vivíamos com o orçamento familiar apertado, mas para a educação nunca faltaram recursos. Meu pai se sacrificou muito para nos dar o máximo que podia. Mas também conseguia benesses quando necessário; boa parte de meu curso de inglês da Cultura Inglesa foi realizada com bolsa. Já o meu francês foi o que aprendi no Colégio Pedro II. Em 1994, fui fazer um pós-doutorado na França apenas com o francês que aprendi no Colégio Pedro II, que, aliás, também permitiu que eu fosse aprovado no curso de Letras da UFF, que abandonei depois.
Geosul - E a geografia neste período como aparece para você?
Prof. Maurício Quando prestei concurso para professor titular da UFRJ, em 1997, fui obrigado a escrever um memorial. A elaboração desse documento exige que se pense muito no que já fizemos, nos caminhos que trilhamos. Outro dia li a entrevista que o professor Roberto Lobato concedeu à revista Expressões Geográficas, de Santa Catarina. Fiquei então sabendo que, quando ele era criança, tinha vontade de conhecer o mundo e que havia criado, inclusive, um país imaginário. Acho que todos os geógrafos tiveram experiências semelhantes. Eu me lembro que havia duas coisas que gostava de fazer quando criança. Uma era ler uma coleção de livros que meu pai possuía na biblioteca, em nove volumes, que se chamava “O Mundo Pitoresco”. Já naquela época eram livros meio desatualizados. Havia umas fotos de povos primitivos de Nova Guiné, gravuras de regiões exóticas, de paisagens distantes. Apreciava muito essas gravuras. Ficava imaginando como seriam aqueles povos, aqueles países. Tinha vontade de conhecê-los todos. Já naquela idade eu viajava bastante. Meu avô materno era de Cananéia, litoral sul de São Paulo, e era para lá que íamos todos os anos passar as férias de verão. Meu avô era advogado e historiador; durante 50 anos trabalhou no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Escreveu também toda a história do litoral paulista. Era pessoa letrada e figura importante de Cananéia, mas residiu a maior parte da sua vida na capital paulista. A árvore genealógica da família Almeida, que ele conseguiu fazer, começa com um português que foi para Santa Catarina no início do século XVIII e de lá migrou para Cananéia, vila que, no período colonial, tinha grande interação com o litoral catarinense e, fiquei sabendo disso muitos anos depois, também com o Rio de Janeiro. Quando criança e adolescente, passei praticamente todas as minhas férias escolares em Cananéia, com incursões por outros municípios do vale do Ribeira, especialmente Iguape. Meu gosto pelas viagens não se limitou, entretanto, às férias. Tinha também muitos sonhos. Quando era adolescente, tinha o hábito de ir uma vez por ano ao Aeroporto do Galeão, para ver a chegada dos vôos internacionais. Como esse vôos chegavam muito cedo, por volta das 7 horas, para estar lá a essa hora eu tinha que sair muito cedo de casa, por volta das 5:30. Ficava no aeroporto durante toda a manhã. Era fantástico ver as pessoas desembarcando dos aviões, chegando de países distantes. Tudo isso já evidenciava meu interesse por viajar, por conhecer o mundo, mas o interessante é que, naquela época, jamais pensei em fazer geografia. Na verdade, me preparei para ser diplomata. Eu achava que era por meio dessa carreira que eu iria conhecer o mundo; por isso investi também no aprendizado do inglês e do francês, além do espanhol, que aprendi também no Pedro II quando cursava o colegial (fiz o “clássico”, que privilegiava bastante o estudo de línguas). Como as pessoas diziam que para ser diplomata era necessário fazer antes um curso superior, comecei a me preocupar com isso e foi aí que comecei a me angustiar. A verdade é que eu não sabia direito o que queria ser. Essa experiência de vida me faz hoje respeitar muito as dúvidas dos adolescentes e mesmo dos jovens alunos da graduação. No último ano do colegial eu sabia o que não gostava, mas não sabia o que queria ser.
Geosul - E como surgiu sua decisão de fazer geografia?
Prof. Maurício - No terceiro ano do ginasial eu tinha sido aluno de um professor de geografia chamado Tharceu Nehrer. No ano anterior fora aluno de uma professora de geografia que fazia a gente decorar tudo: os rios da margem esquerda do Amazonas, os cabos e penínsulas das Américas, etc. Até hoje sei de cor a seqüência dos principais rios europeus que deságuam no oceano. A prova era feita com um mapa mudo e as perguntas eram assim: localize a península disso, o estuário daquilo, o estreito de não sei o quê. Como tinha facilidade para memorizar, só tirava boas notas, de nove para cima. Mas no ano seguinte tive esse professor que não exigia decoreba e que fazia perguntas estranhas, que me obrigavam a pensar. Na primeira prova tirei cinco. Reclamei com o professor. Disse-lhe que eu era, até então, um excelente aluno de geografia. Ele me disse que eu era um excelente memorizador, mas que poderia ser também um pensador da geografia. Não entendi bem, àquela época, o que isso queria dizer. Tharceu foi novamente o meu professor de geografia no terceiro ano colegial. Só que eu não estava nem aí para a geografia. Pensei em fazer vestibular para o curso de grego antigo (que também estudara por dois anos no Pedro II e que apreciava bastante); depois decidi ser mais pragmático e resolvi me dedicar a uma língua viva, razão pela qual comecei a me preparar para o vestibular de letras (Português-Francês). Nessa ocasião, eu tinha um colega no Pedro II que hoje é professor de geografia da Universidade de Brasília, o Mário Diniz. Ele já havia resolvido fazer o vestibular para geografia. Durante algum tempo, complementamos o estudo no Pedro II com aulas num cursinho pré-vestibular, ele se preparando para geografia e eu para letras. Não me lembro quando foi exatamente que resolvi fazer o vestibular para geografia. Só sei que isso ocorreu uns três meses antes da data em que ele se realizaria. Todavia, como estava cursando o pré-vestibular para letras, achei que tinha que dar uma satisfação a meus pais, que estavam pagando por isso, e me inscrevi no vestibular de Letras da UFF, que seria realizado uns dois meses antes do vestibular de Geografia da UFRJ. Fui aprovado no vestibular da UFF, que me habilitou a ser estudante de Português-Francês. Resolvi então me preparar sozinho para o vestibular de Geografia, que seria realizado em fevereiro. Fui para Cananéia. Havia àquela época um livro muito bom, de autoria de Levi Marreiro, que se chamava “A Terra e seus recursos”. Lembro-me bem que esse foi um dos livros que levei comigo para o litoral sul paulista. Prestei o vestibular na UFRJ e passei em primeiro lugar. Resolvi cursar as duas universidades. O ano era 1967 e eu tinha aulas no centro do Rio de Janeiro das oito da manhã ao meio dia. Como não tinha ainda abandonado a idéia da diplomacia e havia rumores de que seria realizado em breve um concurso para oficial de chancelaria, decidi que isso seria um passo inicial importante para o concurso para diplomata. Só que oficial de chancelaria tinha que saber datilografia e eu resolvi então me matricular na Escola Remington. Aliás, esse foi o curso mais útil que já fiz. Até hoje sou exímio datilógrafo. E fiz este curso na hora do almoço, depois de sair da UFRJ. Acabada a aula, ainda ia para casa almoçar, tomava banho e voltava para o centro do Rio, para pegar a barca para Niterói; lá tinha aulas na UFF de 17:30 às 22 horas. Quando regressava ao lar, já era mais de meia noite. Sábados e domingos também eram dias de trabalho. Em muitos sábados havia trabalho de campo de geografia e foram muitos os domingos que passei em Niterói fazendo trabalhos de grupo com os colegas das letras. Praticamente não fiz outra coisa em 1967 a não ser estudar, mas não posso deixar de dizer que gostei de tudo o que fiz naquele ano. Em maio de 1968, quando cursava o segundo ano de geografia e de letras, minha vida mudou. Naquele momento, eu estava cursando a disciplina Metodologia da Geografia, que era lecionada pela Professora Lysia Bernardes. Lysia já era uma das geógrafas mais importantes do país. Além de ser docente em tempo parcial da UFRJ, já havia sido diretora do IBGE e estava agora trabalhando para o IPEA. Àquela época, a satisfação a meus pais, que estavam pagando por isso, e me inscrevi no vestibular de Letras da UFF, que seria realizado uns dois meses antes do vestibular de Geografia da UFRJ. Fui aprovado no vestibular da UFF, que me habilitou a ser estudante de Português-Francês. Resolvi então me preparar sozinho para o vestibular de Geografia, que seria realizado em fevereiro. Fui para Cananéia. Havia àquela época um livro muito bom, de autoria de Levi Marreiro, que se chamava “A Terra e seus recursos”. Lembro-me bem que esse foi um dos livros que levei comigo para o litoral sul paulista. Prestei o vestibular na UFRJ e passei em primeiro lugar. Resolvi cursar as duas universidades. O ano era 1967 e eu tinha aulas no centro do Rio de Janeiro das oito da manhã ao meio dia. Como não tinha ainda abandonado a idéia da diplomacia e havia rumores de que seria realizado em breve um concurso para oficial de chancelaria, decidi que isso seria um passo inicial importante para o concurso para diplomata. Só que oficial de chancelaria tinha que saber datilografia e eu resolvi então me matricular na Escola Remington. Aliás, esse foi o curso mais útil que já fiz. Até hoje sou exímio datilógrafo. E fiz este curso na hora do almoço, depois de sair da UFRJ. Acabada a aula, ainda ia para casa almoçar, tomava banho e voltava para o centro do Rio, para pegar a barca para Niterói; lá tinha aulas na UFF de 17:30 às 22 horas. Quando regressava ao lar, já era mais de meia noite. Sábados e domingos também eram dias de trabalho. Em muitos sábados havia trabalho de campo de geografia e foram muitos os domingos que passei em Niterói fazendo trabalhos de grupo com os colegas das letras. Praticamente não fiz outra coisa em 1967 a não ser estudar, mas não posso deixar de dizer que gostei de tudo o que fiz naquele ano. Em maio de 1968, quando cursava o segundo ano de geografia e de letras, minha vida mudou. Naquele momento, eu estava cursando a disciplina Metodologia da Geografia, que era lecionada pela Professora Lysia Bernardes. Lysia já era uma das geógrafas mais importantes do país. Além de ser docente em tempo parcial da UFRJ, já havia sido diretora do IBGE e estava agora trabalhando para o IPEA. Àquela época, o trabalho urbano que era padrão das reuniões da AGB (como fiquei sabendo mais tarde), com a turma se dividindo em equipes para estudar o uso do solo, a fisionomia urbana, o raio de ação do comércio, etc. Desse trabalho resultaram relatórios parciais. Com o estímulo da Professora Therezinha, dois estudantes ficaram responsáveis por transformar as anotações de campo da turma num artigo e daí surgiu “As causas do crescimento urbano recente de Itaboraí-Venda das Pedras”, que minha amiga Maria do Socorro Diniz e eu publicamos no Boletim Carioca de Geografia, órgão oficial da AGB-Rio. Trabalho bem simplesinho. A gente falava do processo de metropolização, da ponte Rio-Niterói em construção e já prevíamos grandes mudanças especulativas para o outro lado da Baía de Guanabara.
Geosul - E lá no IBGE você conheceu quem, além da Lysia?
Prof. Maurício - Conheci a Lysia na faculdade, pois foi minha professora. Quando entrei para o IBGE, ela já estava trabalhando no IPEA. No IBGE, fui alocado, inicialmente, à Seção Regional Leste, que era chefiada por José Cezar de Magalhães Filho, que foi presidente nacional da AGB nos anos setenta e comandou a famosa reunião de 1978 em Fortaleza. Em meu primeiro dia de trabalho, conheci um outro estagiário, que hoje é presidente da Anpege: meu querido amigo José Borzacchiello da Silva. O estágio no IBGE mudou muito a minha vida. Não posso deixar de reconhecer que tive também muitos momentos de sorte. A história das carreiras não é apenas explicada pela competência e dedicação das pessoas; temos também que contar com o imponderável. Eu tive a sorte de me formar num momento em que o mercado de trabalho se expandia para os geógrafos. E tive algumas sortes inesperadas também. Em 1969, por exemplo, quando ainda estava no terceiro ano da graduação, acabei integrando uma equipe do IBGE que fez uma longa excursão ao Nordeste. No ano anterior, a Sudene havia assinado um contrato com o IBGE para a realização de estudos de desenvolvimento urbano e regional. Num exemplo típico da importação de teorias, o Plano Diretor da Sudene havia proposto a adoção da teoria dos pólos de crescimento que o economista francês François Perroux havia desenvolvido para a Europa do pós-guerra. Era uma teoria feita para o espaço topológico das relações inter-industriais, das matrizes de insumo-produto, mas que, àquela época, vinha sendo também aplicada, sem muita crítica, ao espaço geográfico. Na realidade, essa foi uma estratégia generalizada no planejamento capitalista de então e vinha sendo seguida também nos países de economia centralizada. Só muito mais tarde é que a crítica a essa livre adaptação seria feita. O Plano Diretor da Sudene seguia a estratégia da descentralização concentrada, isto é, evitar a super-concentração de investimentos nas áreas metropolitanas, mas evitar também a dispersão de investimentos; estes deveriam ser prioritariamente concentrados em alguns “centros dinamizadores” e em “regiões programa”, estas últimas ligadas ao desenvolvimento rural. De início, não fui escolhido para ir ao Nordeste. Todavia, por razões de ordem particular, o José da Silva teve que desistir da excursão e eu fui escolhido para substituí-lo, integrando a equipe comandada pelo José Cezar de Magalhães, que iria fazer o levantamento das “regiões programa”. A outra equipe, chefiada pela saudosa Hilda da Silva, concentraria seus esforços no estudo dos “centros dinamizadores”, ou seja, seria a equipe urbana. Embora preferisse estar nessa última, foi com incontida alegria que me preparei para trabalhar nas áreas rurais nordestinas. As duas equipes, cada uma com quatro geógrafos e três estagiários, voaram juntas para Recife. Tive nesse dia a alegria de viajar pela primeira vez de avião, um Caravelle da Cruzeiro do Sul (ainda hoje sou fascinado por aviões). Em Recife tivemos reuniões preparatórias com o Professor Mário Lacerda de Melo, geógrafo que faleceu há pouco tempo, então trabalhando na Sudene. Alguns funcionários daquele órgão de desenvolvimento regional juntaram-se então aos dois grupos e partimos para Fortaleza. Aqui em Fortaleza é que as duas equipes iriam se separar. O grupo urbano devia se dirigir para Sobral e o rural para Baturité. Foi aí que algo inesperado definiu minha participação nessa excursão. Pouco antes da viagem eu havia feito uma operação de apendicite. Acontece que, em Fortaleza, eu comecei a rejeitar os pontos internos da operação, que deveriam ter sido absorvidos pelo organismo. Consultado um médico, ele foi de opinião que eu poderia continuar o trabalho, mas que era recomendável que eu integrasse o outro grupo, que estudaria as cidades, pois teria sempre a possibilidade de contar com hospitais em caso de rejeição de outros pontos. Com a concordância dos chefes do trabalho de campo, fui então transferido para a equipe urbana e parti para Sobral. Em quase dois meses de trabalho, foram 7.000 km andando de Rural Willys pelas estradas do Nordeste que, nessa época, eram quase todas de terra. De Sobral voltamos a Fortaleza e rumamos para Mossoró e Natal; depois, cruzamos os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba e fomos para o Cariri cearense para estudar Crato e Juazeiro do Norte. De lá, fomos para Aracaju, via Paulo Afonso, e Maceió, seguindo depois para Recife, de onde voltamos para o Rio. Foram feitos levantamentos em todas aquelas cidades, então consideradas de porte médio. A mim, coube fazer a pesquisa nos hospitais e faculdades, para obter dados sobre a procedência de pacientes e alunos. Aproveitei as idas aos hospitais para fazer curativos, pois continuava a rejeitar pontos internos. De volta ao Rio, fui transferido para a Seção Regional Nordeste, que era chefiada pela Hilda da Silva, minha chefe na excursão. Lá passei um ano inteiro organizando os dados coletados, fazendo tabelas, elaborando mapas de fluxos, etc. Todo esse material está publicado. Esse também foi um período muito efervescente em termos políticos, de repressão muito grande nas universidades; um dos meus colegas de estágio do IBGE foi seqüestrado e preso pelos militares; na UFRJ convivemos dois anos com um estudante “transferido”, que todos sabíamos que era agente infiltrado pelo Dops na Academia. Foi também o momento das passeatas (antes que o AI-5 chegasse). Foi uma época muito tensa e, para mim, de grande aprendizado político. Em comparação àquele tempo, não deixa de causar surpresa como os estudantes de hoje se despolitizaram. Em 1970, ano em que iria me formar, a universidade decidiu separar o bacharelado da licenciatura. Optei inicialmente pelo bacharelado, mas lá por maio, Socorro e eu concluímos que, em termos de mercado de trabalho, seria mais interessante concluir primeiro a licenciatura. Conseguimos a transferência para a Faculdade de Educação e foi lá que obtive, ao final do ano, meu diploma de Licenciado em Geografia. Aliás, até hoje, não sou bacharel. Sou mestre, doutor; um dos mais antigos doutores da geografia brasileira, pois obtive meu grau de Ph.D em 1976, ou seja, há quase 30 anos, mas não sou bacharel (e também não sou filiado ao CREA, pois quando a profissão foi regulamentada começaram a exigir o diploma de bacharel e eu me recusei, depois de já ser mestre e doutor, a ingressar novamente na universidade para obter esse grau). Também nunca exerci a profissão de professor secundário, apenas dei aulas no Colégio de Aplicação, uma experiência que considerei fantástica. Foi também em 1970, ano em que me formei na graduação, que fui novamente bafejado pela sorte. Naquela época, o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, instituição privada que existe até hoje, estava criando seu Centro de Pesquisas Urbanas (CPU). O diretor do IBAM, Professor Diogo Lordello de Mello havia feito um convênio com a Fundação Ford para a criação desse Centro, que seria dedicado ao estudo da urbanização brasileira, que estava se tornando explosiva. A idéia era realmente inovadora. O que o Professor Lordello queria era criar uma equipe multidisciplinar que se dedicasse ao estudo das cidades. Resolveu então contratar um profissional de sociologia, um de geografia, um de economia, um de arquitetura e urbanismo, etc. Só que ele não queria contratar nenhuma estrela, nenhum profissional já estabelecido; a idéia era contratar pessoas jovens, em início de carreira. Sabendo disso pelo marido de uma colega, que era arquiteto e fazia consultoria para o IBAM, resolvi me apresentar para uma entrevista e fui contratado como estagiário em junho de 1970. Mais tarde, soube que o Professor Lordello pediu referências minhas a Lysia Bernardes, que mais uma vez me deu um empurrão profissional. No IBAM enfrentei muitos desafios. O primeiro foi o de escrever um artigo para ser publicado na Revista de Administração Municipal, órgão oficial da instituição, sobre a contribuição da geografia para oestudo das cidades. Escrevi então “A geografia e os problemas urbanos”. Eu sabia que era apenas um estagiário e que esse trabalho seria fundamental para uma possível contratação após a formatura. Deu tudo certo. Dois dias após a formatura, entrei oficialmente para os quadros do IBAM. E aí tive um outro desafio a enfrentar. A idéia original do Professor Lordello, homem que estava realmente à frente do seu tempo, era que os integrantes do CPU fossem pós-graduados. Por essa razão havia feito o convênio com a Fundação Ford. Todos os membros do CPU deveriam obter graus de mestre. A escolha das universidades era livre, mas o país tinha que ser os EUA já que o órgão financiador era norte-americano. Quando entrei para o CPU, dois de seus integrantes já estavam naquele país fazendo o mestrado. Seis meses depois de ter me formado, fui também enviado para os EUA. A preparação para a ida aos EUA foi um misto de alegria e de medo. Essa foi a época em que a geografia brasileira se abria ao neo-positivismo. E em matemática eu era um desastre. Enquanto era estagiário do IBGE, tive o primeiro contato com a tal “geografia quantitativa”, pois participei de um curso introdutório (na realidade, de estatística descritiva) ali ministrado pelo geógrafo John Cole. Nessa época, alguns geógrafos do IBGE estavam “mergulhando de cabeça” nessa geografia, sobretudo Pedro Geiger e Speridião Faissol. Alguns setores do IBGE já estavam trabalhando com técnicas quantitativas e os computadores já começavam a fazer parte da rotina de pesquisa. No IBGE, eu não trabalhava com a “quantitativa”, como então se falava, mas sabia que, nos Estados Unidos, seria por aí (o que, na realidade, era um erro, pois nem todos os departamentos de geografia dos EUA abraçaram o neo-positivismo). Eu, entretanto, com todo o meu temor da matemática e minha formação lablacheana, acabei indo para um dos departamentos mais neo-positivistas daquele país. Minha escolha foi produto das influências do momento (a geografia aplicada, o planejamento, as novas técnicas que se apresentavam como “científicas”, a opinião de mestres e geógrafos profissionais com os quais convivia) e também da rebeldia natural de todo jovem, que quer se diferenciar da geração que lhe precedeu. No início dos anos setenta, David Harvey escreveu um trabalho que considero seminal. Chama-se “Teoria revolucionária e contra-revolucionária na Geografia e o problema da formação do gueto”, que é um capítulo de “A Justiça Social e a Cidade”. Nesse texto, Harvey discute o que significa uma mudança de paradigma para pessoas que estão começando a carreira. As críticas que se fizeram ao neo- positivismo no Brasil, todas publicadas a posteriori e não quando ele surgia, isto é, em fins dos anos sessenta, tendem a misturar tempos. As perspectivas que se abriam ao geógrafo que se formava ao final da década de sessenta eram duas: ou você fazia a geografia regional francesa ou optava por uma geografia mais de intervenção, que não necessariamente tinha que ser “quantitativa”;mesmo os franceses defendiam isso, pois Pierre George e outros falavam de “geografia ativa”, Jean Labasse de “geografia voluntária”, Michel Philipponeau de “geografia aplicada”. Ou seja desde os anos 50 havia na geografia francesa uma proposta de intervenção, de planejamento, palavra que depois ficou sendo maldita na geografia brasileira, pois acabou se transformando em sinônimo apenas da intervenção feita pelo regime militar instaurado em 1964. Essa proposta de intervenção através do planejamento fascinava a mim e a muitos da minha geração. Não posso negar, entretanto, que minha opção por Ohio State University nada teve a ver com essas reflexões que faço agora. Tive muito pouco tempo para decidir. Os prazos eram curtos, tanto para ser aceito pela universidade escolhida como para começar os trâmites burocráticos com a Fundação Ford. Além do mais desconhecia quase por completo a geografia norte-americana (que àquela época, tinha pouquíssima influência sobre a geografia brasileira), razão pela qual dependi muito do que me diziam os profissionais mais experientes, sobretudo Lysia Bernardes. A escolha por Ohio State foi, na realidade, fruto de uma conversa com Lysia e Nilo Bernardes. Àquela época, o nome norte-americano que se projetava no cenário mundial era o de Brian Berry (que, aliás, era inglês). Pensei então em ir para Chicago, para fazer o mestrado com ele. Lysia e Nilo, entretanto, me demoveram dessa idéia, pois achavam que ele viajava muito e que não daria muita importância à atividade de orientação. Sugeriram, então, que eu fosse para a Ohio State University, pois lá havia um geógrafo que eles haviam conhecido no Brasil, que também fazia essa “nova geografia” e que falava português. Confesso que minha decisão foi totalmente influenciada por essa conversa. Acabei escrevendo para esse professor (Howard Gauthier, que seria meu orientador do mestrado e do doutorado), que aceitou minha candidatura de imediato. Seis meses depois de minha formatura na graduação, aterrissei em Columbus, capital do estado de Ohio, que seria a minha residência pelos próximos cinco anos. O próprio Professor Gauthier me recomendara que chegasse para o quadrimestre de verão, pois nesse período a universidade trabalhava mais lentamente, com poucos cursos sendo oferecidos, e eu teria mais tempo para me adaptar e começar a soltar a língua. Era também o tempo necessário para ir me acostumando com essa “nova geografia”, sobre a qual eu não sabia quase nada e que teria de enfrentar no quadrimestre de outono, início do ano letivo regular. Enquanto me preparava para ir para os EUA, tive que enfrentar um outro desafio no Brasil. Em 1972, ou seja, no ano seguinte à minha ida para os Estados Unidos, seria realizada em Estocolmo a Conferência das Nações Unidos para o Meio Ambiente, temática que começava a ter importância na agenda de pesquisa. Fui então solicitado por meu chefe no IBAM, Cleuler de Barros Loyola, a escrever um trabalho sobre o assunto. Nessa época, o IBAM editava umas monografias que orientavam as atividades de planejamento das prefeituras municipais. Os temas eram os mais variados: sistema viário, abastecimento d’água, localização de indústrias, de matadouros, de cemitérios, etc. Havia que falar da importância dessas atividades e/ou usos para as cidades, definir metas de planejamento e indicar os indicadores qualitativos e quantitativos que deveriam ser levados em consideração pelos planejadores. Eu nunca tinha trabalhado com meio ambiente. Comecei então a ler textos diversos, a coletar estatísticas, a me aventurar por caminhos que não havia percorrido muito na graduação ou no estágio no IBGE. Logo reconheci também que o tema era inovador, pois havia muito pouca coisa publicada sobre as questões ambientais. Produzi então um livrinho de capa verde, que teve o título “Sistema Urbano de Conservação do Meio Ambiente”, que tive a honra de ver prefaciado pelo Professor Simões Lopes, da Fundação Getúlio Vargas e, àquela época, presidente do Conselho de Administração do IBAM. Em 1997, quando preparava meu memorial para o concurso de professor titular, tive a oportunidade de reler o que havia escrito vinte e seis anos antes. Fiquei impressionado ao me ver abordando temas que só depois se afirmariam na pesquisa geográfica. Embora não usasse palavras como sustentabilidade, o conceito já estava delineado ali. É interessante verificar também que, naquela época, final dos anos 60 e início dos 70, o termo ambiente estava muito relacionado ao ambiente urbano. O grande tema de discussão era a poluição: da água, do ar, visual, etc. Quando o livrinho foi publicado, eu já estava nos EUA, cursando o mestrado.
Geosul - E você com sua base geográfica podia ver o meio ambiente e explicar os sítios...
Prof. Maurício - Aliás, naquele artigo “A geografia e os problemas urbanos” uma das questões que abordo é a dos sítios das cidades; outra é a dos “movimentos de massa”, expressão que, àquela época, não era sinônimo de movimentos políticos, mas sim de deslizamentos de encostas. A Maria Regina Mousinho e o Jorge Xavier da Silva haviam escrito, inclusive, um trabalho muito inovador sobre isso e foram chamados a prestar informações à polícia política que, imbecil como era, pensou que se tratasse de obra subversiva. Ora, esses deslizamentos afetam não só as áreas rurais pouco habitadas, como foi o caso que eles estudaram, mas também as áreas urbanas. Minha incursão pelas questões ambientais ficou por aí. Depois gente acaba enveredando por outros caminhos. Tive, entretanto, uma boa formação de Geografia Física; fui aluno de duas grandes mestras: Maria do Carmo Corrêa Galvão e Maria Regina Mousinho de Meis.
Geosul - Fale um pouco sobre a sua experiência lá em Ohio.
Prof. Maurício – O primeiro ano foi extremamente difícil. A sensação que eu tinha é que tudo que havia aprendido antes não servia para nada. A verdade é que minha formação de graduação e de pós-graduação ocorreu na época das “revoluções paradigmáticas”. Em um curto período de cinco anos fui influenciado pela geografia clássica francesa, pela geografia quantitativa e pela geografia marxista, com a qual tive contato ainda nos EUA. Mas, voltando ao assunto, o primeiro ano foi muito difícil, a língua, a adaptação. Todavia, jamais tive saudade do feijão com arroz ou da goiabada. Para mim, viajar para o exterior era sonho antigo e eu estava ali para aproveitar ao máximo o que ele tinha para me oferecer. No primeiro ano, minhas anotações eram uma mistura de português com inglês (ainda guardo meus cadernos e fichários). Havia dificuldade de entender o que o professor falava e escrever rapidamente alguma coisa em inglês; portanto, misturava as línguas. Também foi difícil entrar no mundo da estatística e da matemática, que apesar de extremamente introdutórias nesse primeiro ano, eram grande novidade para mim, pois meu curso de estatística da graduação foi péssimo. Até hoje, o que sei de estatística e de matemática (sobretudo, álgebra linear) é em inglês; fiz três cursos de cálculo, mas já esqueci quase tudo. Como disse, cheguei a Columbus no verão. Naquele quadrimestre, fiz inscrição em dois cursos, mas acabei fazendo apenas um, de leituras, com meu orientador, totalmente dedicado ao livro Industrial Location, de David M. Smith, que até hoje considero um primor. Abandonei o curso de Microeconomia logo que pude, pois já era muito carregado de matemática e tinha dificuldade em entender o que dizia a professora, que era indiana e falava com muito sotaque. No quadrimestre de outono me inscrevi nos dois cursos obrigatórios para o mestrado. O primeiro se chamava Spatial Systems e era uma introdução às teorias da geografia neo- positivista; o livro-texto era o recém-lançado “Spatial Organization”, de Abler, Adams e Gould. O segundo era “Técnicas Quantitativas I”, de estatística descritiva. Os dois cursos estavam sob a responsabilidade de Kevin Cox, geógrafo político e um dos grandes professores que tive em Ohio State. Ele ainda está lá. É um dos poucos geógrafos marxistas que ainda existem nos EUA, mas nessa época ainda não havia feito sua transição teórica. Nesse semestre, me matriculei também em Geografia Urbana, curso muito diferente daquele que eu havia feito no Brasil, todo baseado em teorias dedutivas, modelos de localização, fórmulas.Embora estudasse dia e noite, tirei um C na primeira prova de Spatial Systems, aliás, a única nota baixa que tive nos cinco anos que passei nos EUA Foi um drama! Eu tinha que manter, no mínimo, a média B para poder continuar com a bolsa; de outra forma, teria que retornar ao Brasil. Não sei como sobrevivi àquele primeiro semestre de carga pesada. Não era só a geografia que era diferente em Columbus. Todo o resto também era e exigiu muito em termos de adaptação. Eu morava em um dormitório para pós-graduandos e estudava todos os dias. A universidade tinha mais de 50.000 alunos, uma cidade dentro de outra, a maior universidade americana em um só campus. Já começava a fazer amizades com americanos e outros estrangeiros, mas foram os brasileiros que me acompanharam mais naqueles primeiros meses. Ohio State sempre foi famosa na área de agricultura. A maioria dos brasileiros que estavam lá eram de faculdades de agronomia, muitos deles da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de Piracicaba. No final do semestre consegui um A em Geografia Urbana e B nos outros dois cursos. Foi minha primeira vitória. A partir daí tudo foi melhorando.
Geosul - Você fez o mestrado e o doutorado nos Estados Unidos?
Prof. Maurício – Fiz o mestrado e o doutorado em Ohio State. No total, foram cinco anos de residência e trinta e poucos cursos que tive que cursar, pois o modelo americano de pós-graduação exige muitos créditos, muitos cursos, muitas provas, muitos trabalhos. E o sistema em Ohio State era de quadrimestres, isto é, os cursos se estendiam por apenas 10 semanas. Ou seja, tudo tinha que acontecer em 10 semanas: introdução ao curso, desenvolvimento, realização de leituras, provas, trabalhos. Para o mestrado, o aluno tinha a opção de escolher entre mestrado com tese ou com exame. Se optasse por fazer um exame, tinha, entretanto, que apresentar também um trabalho escrito, que não era uma tese, mas tinha que ter um nível semelhante ao de um trabalho aceito para publicação em revista científica. No Departamento de Geografia, a regra era que todos tinham que fazer o exame de mestrado. Fiz isso em junho de 1973. Minha área de especialização acabou sendo Desenvolvimento Econômico e Regional, que era a área do meu orientador. Meu trabalho escrito foi sobre o desenvolvimento regional no Brasil, teorias dos pólos de crescimento, modelo centro-periferia, etc. Enquanto me preparava para o exame, já dominando muito bem o inglês, fui convidado por meu orientador para permanecer para o doutorado. Não havia mais possibilidade de ficar com a bolsa da Fundação Ford (o convênio com o IBAM havia acabado). Portanto, se era para ficar, teria que fazer como inúmeros de meus colegas: obteria uma bolsa da própria universidade e teria que trabalhar como auxiliar de ensino. Optei por ficar. Já conseguia destrinchar bem os modelos e teorias, que já não me assustavam tanto. Consegui também a necessária autorização do IBAM para ficar. Nesse ínterim, fui novamente bafejado pela sorte, pois consegui uma bolsa de estudo para fazer um curso de “Urbanização e Desenvolvimento Regional” no Brasil! Era um curso patrocinado pelo Cedeplar, da UFMG, também com apoio da Fundação Ford, destinado à formação de pesquisadores latino-americanos. Eu havia tido conhecimento do curso e, como quem não quer nada, tinha também preenchido o formulário de inscrição. Não tinha esperança em obter uma vaga, pois achava que não iriam dar uma bolsa para um brasileiro que morava nos EUA ir fazer um curso no Brasil. Mas foi isso que aconteceu. Passei o verão (do hemisfério norte) de 1973 no Brasil, fiz o curso do Cedeplar (ministrado por professores de altíssimo gabarito, dentre os quais Jorge Hardoy e Luiz Uniquel) e voltei para os EUA em setembro. Comecei então meu curso de doutorado e minha atividade como auxiliar de ensino. Boa parte dos alunos de pós-graduação tinha essa atividade. O Departamento oferecia três disciplinas do ciclo básico, que eram Geografia Física, Geografia Regional do Mundo e Geografia Econômica. As aulas eram de 50 minutos, mas como o quadrimestre era de 10 semanas, precisavam ser dadas durante todos os dias da semana. Como a universidade tinha 50.000 alunos, a demanda pelos cursos básicos era enorme. O de Geografia Regional do Mundo era oferecido em várias turmas: às 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 20 horas. Cada um desses horários era de responsabilidade de um professor do departamento ou, o que era mais comum, de alunos bolsistas da pós-graduação. Nos primeiros dois anos, quando faziam o mestrado, os estudantes bolsistas geralmente auxiliavam o professor; depois, quando já eram estudantes de doutorado, assumiam total responsabilidade por um dos horários das disciplinas. Apesar de já estar cursando o doutorado, comecei como todo mundo: auxiliando um professor, no caso, George Demko, que era grande especialista em Geografia da População e em União Soviética. Fui o primeiro auxiliar de ensino do Departamento em muitos anos cuja língua materna não era o inglês. Devido a uma experiência anterior mal sucedida, o departamento só oferecia bolsas a alunos estrangeiros que viessem de países de língua inglesa, por motivos óbvios. Como eu já dominava bem o idioma e tinha obtido um bom aproveitamento no mestrado, o Departamento havia resolvido mudar essa política e havia, inclusive, concedido uma bolsa a um outro estudante vindo de país não-anglofônico, no caso Zoran Roca, àquela época cidadão da Iugoslávia, hoje da Croácia. O Professor Demko tinha grande interesse em tê-lo em Ohio State, porque já o conhecia antes e porque ele era oriundo do leste europeu (lembremos que estávamos na guerra fria). Um ano depois da chegada de Zoran, chegaria a Ohio State minha colega de graduação da UFRJ, Maria de Nazaré de Oliveira, também com bolsa de auxiliar de ensino. Acabaram esses dois se enamorando um do outro e estão casados desde 1975. Moraram na Croácia por muitos anos e lá obtiveram seus doutorados. Hoje estão em Lisboa, onde são professores universitários; já estiveram dando cursos no Brasil. Mas voltemos ao período em que comecei a ser auxiliar de ensino. Como disse, o docente responsável era George Demko, um professor insuperável em sala de aula, que recebia seguidos prêmios pela qualidade de suas aulas (aliás, isto é uma prática que precisava ser incorporada nas universidades brasileiras, pois esses prêmios eram concedidos pelos próprios alunos). Com um professor como esses oferecendo a disciplina, o Departamento abriu vagas para 300 alunos naquele horário e, a pedido do próprio Demko, alocou os dois únicos bolsistas de países de língua não inglesa para auxiliá-lo. A disciplina era dada num auditório e tínhamos que usar microfone. Além das atividades burocráticas, isto é, passar listas de presença, auxiliar na correção de provas, participar dos trabalhos práticos e ter horários de atendimento para os alunos, coube a nós dois lecionar os módulos de Europa de Leste (Zoran) e América Latina (eu). Foi um batismo de fogo: dar aulas em inglês para 300 alunos. No ano seguinte, passei a ter total responsabilidade por um dos horários em que a disciplina Geografia Regional do Mundo era oferecida. Ministrei essa disciplina durante oito quadrimestres seguidos, até obter o doutorado. No início, obtive os primeiros horários, mas depois sempre acontecia o “upgrade”: comecei dando aula no inverno às oito da manhã, antes mesmo do sol nascer, e terminei no horário nobre das 10 e 11 da manhã. Foi uma experiência fantástica. Até hoje guardo algumas fichas de avaliação discente que o Departamento gentilmente me ofertou quando voltei para o Brasil; elas eram muito importantes para que o Departamento acompanhasse o desempenho de seus alunos bolsistas. Defendi minha tese de doutorado no final de maio de 1976 e colei grau no início de junho. Minha tese foi sobre migrações e absorção de força de trabalho migrante e não-migrante nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi nessa época que a temática da informalização do mercado de trabalho ganhou importância. Tudo havia começado numa reunião da OIT ocorrida no Quênia poucos anos antes, a partir da qual inúmeras teorias foram desenvolvidas. Em minha tese, dialoguei muito com os autores que então teorizavam sobre essa temática, sobretudo com Michael Todaro; não conhecia, àquela época, o trabalho de Milton Santos sobre os dois circuitos da economia urbana nos países subdesenvolvidos. Como o censo demográfico de 1970 tinha informações detalhadas sobre migrações, tive a felicidade de obter tabulações especiais que permitiram que eu desenvolvesse o trabalho. Contei, para isso, com a ajuda prestimosa de meus antigos colegas do IBGE, sobretudo de Marilourdes Lopes Ferreira, que também tinha sido colega da faculdade. Apesar de serem os dados mais detalhados já publicados sobre migrações no Brasil, as tabulações que obtive apenas distinguiam o município central da área metropolitana (Rio e São Paulo) do conjunto dos demais municípios metropolitanos, o que não permitiu esmiuçar as diferenças internas das duas periferias. Além dos dados de migração, utilizei também dados de escolaridade e de ocupação. Como era de se esperar, a tese teve um arcabouço teórico neo-positivista, utilizou técnicas quantitativas (no caso, a correlação canônica) e se alicerçou, sobretudo, na teoria econômica neoclássica. Minha tese de doutorado contou com um co-orientador de alta qualidade: o Professor Douglas Graham, economista com grande experiência em Brasil. Logo após colar grau, retornei ao Brasil.
Geosul - Você foi logo para a Universidade?
Prof. Maurício – Não. Voltei para trabalhar no IBAM. E foi um choque. Quando tinha saído do Brasil, meu horizonte profissional era atuar no planejamento urbano; essa era a grande palavra do momento: intervenção. Podia ser local, regional. Depois de voltar, o que eu mais queria era dar continuidade ao trabalho que tinha feito em Ohio State, isto é, fazer pesquisa, escrever trabalhos científicos, ser professor universitário. Mas o que o IBAM queria (e não podia ser de outra maneira) é que eu trabalhasse em planejamento urbano e regional. Por essa razão, fiquei, inicialmente, um pouco distante da universidade. Nesse ínterim, o CPU tinha mudado bastante. Eram agora quase 20 profissionais, chefiados por Ana Maria Brasileiro, cientista política. Logo depois, Ana Maria foi substituída por Carlos Nelson Ferreira dos Santos, grande arquiteto e antropólogo, infelizmente já falecido. Meu problema era um só naquele tempo: eu queria a vida acadêmica, mas precisava trabalhar com temáticas bem operacionais: localização de terminais de ônibus, etc. Em 1977, entretanto, fui alocado a uma pesquisa extremamente interessante, que trataria do impacto do metrô, então em construção, na estrutura urbana do Rio de Janeiro. Esta pesquisa já tinha sido contratada antes de eu voltar, mas foi só em 1977 que ela teve início. Fiquei com a sub-coordenação. O coordenador era Murillo Godoy, um grande planejador urbano, ex-diretor do atual IPPUR-UFRJ, que havia sido demitido da universidade por perseguição política. Para essa pesquisa foram alocados mais de 50 pesquisadores, alguns do quadro efetivo do IBAM e a maioria contratada por tempo determinado. Pesquisamos os impactos sobre o uso do solo, o mercado imobiliário, o meio ambiente e a estrutura sócio-econômica dos diversos bairros cortados pelas linhas metroviárias em construção. Ao final, coube a mim dar o fecho final do trabalho. Além de ter sido um trabalho importante da minha carreira, a pesquisa sobre o impacto do metrô me fez conhecer inúmeras pessoas, muitas das quais são minhas amigas até hoje.
Geosul - E foi esta pesquisa que te levou para a história das cidades?
Prof. Maurício - Ainda não. Hoje eu estou usando aquela pesquisa sobre o metrô em minhas orientações de graduação. A verdade é que já se passaram mais de 25 anos desde que ela foi feita e achei que seria importante verificar se os impactos que previmos naquela época realmente aconteceram ou não. Muita coisa que previmos ocorreu. Outras não. Um dos “furos” do trabalho foi que não previmos (não sei se isso seria possível àquela época) o grande impacto que os shopping centers iria causar na estrutura comercial da cidade. Escrevemos o trabalho antes que o primeiro shopping surgisse no Rio. Dois de meus alunos já se debruçaram sobre essa temática. Eles utilizam o que escrevemos e os mapas que produzimos em 1977 e comparam com a situação atual. Voltando agora à sua pergunta, quando o trabalho do metrô terminou, fui obrigado a fazer aquilo que eu mais detestava: escrever termos de referência de futuras pesquisas que poderiam ser desenvolvidas pelo CPU e apresentá-los a potenciais financiadores. O IBAM vivia dos contratos que firmava; por isso, tínhamos que estar sempre vendendo o peixe. Antes de acabar uma pesquisa, já tínhamos que estar propondo alguma outra para o futuro. Nesse ínterim, comecei a dar aulas na universidade. Nessa época, a UFRJ tinha apenas quatro doutores. Fui convidado por Maria do Carmo Galvão, que era a coordenadora da pós-graduação, para dar aulas como colaborador horista. Comecei em 1977, oferecendo um curso sobre migrações internas. Eu queria dar Desenvolvimento Regional, mas Bertha Becker já lecionava essa disciplina. Era uma atividade paralela, pois minhas maiores responsabilidades estavam no IBAM. Ao mesmo tempo, comecei a participar de bancas examinadoras de mestrado na UFRJ, inclusive da sua, Dolores, lembra-se? Voltando novamente à pergunta formulada, enquanto dava aulas na UFRJ e escrevia termos de referência no IBAM, surgiu uma oportunidade de pesquisa fantástica. Foi através do Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que nesta época já era o chefe do centro de pesquisas. Ele havia conseguido um financiamento de uma instituição canadense, que vinha concedendo verbas a equipes latino-americanas para estudar questões relativas à distribuição da população. Cada país poderia estudar o que quisesse: migrações inter-regionais, mobilidade pendular, etc. Carlos Nelson havia se comprometido a fazer um estudo de distribuição de população na escala metropolitana. O Brasil foi o único país que trabalhou nessa escala; as equipes dos demais países optaram por desenvolver estudos na escala regional, ou mesmo nacional. Como naquela época eu não estava alocado a projeto algum, Carlos Nelson me chamou para desenvolver o projeto juntamente com Olga Bronstein, socióloga. De início, não tínhamos a menor idéia do que fazer. Mas logo chegamos a um acordo. O que precisávamos pesquisar era o “modelo metropolitano” que havia surgido no Brasil, que tinha como eixo um município relativamente rico em termos de renda média da população e bem servido de infra estrutura urbana, que era cercado por periferias cada vez mai pobres e mal servidas de infra-estrutura à medida que no distanciávamos do núcleo metropolitano. Na divisão de trabalho que se seguiu, fiquei com a incumbência de buscar as origens desse “modelo”, isto é, estudar o processo que lhe havia dado origem Olga deveria concentrar sua atenção nas políticas habitacionais Comecei então a mergulhar no passado carioca. A questão que me perseguia era: será que as políticas públicas atuais (década de 1970), que beneficiavam sempre as classes mais privilegiadas e expulsavam os pobres para as periferias, constituíam processo novos de estruturação metropolitana ou será que elas eram a feição mais acabada de processos que sempre existiram? Comecei então a reler os trabalhos clássicos de Therezinha de Segadas Soares e de Lysia Bernardes sobre o Rio do passado. Mergulhei nos censo cariocas de 1872, de 1890, de 1906, de 1920 etc. Li muitos outro autores que desconhecia até então. Comecei a descobrir coisa sobre o Rio de Janeiro de outrora e comecei a gostar do que fazia Como resultado desse esforço, produzi um trabalho que Foi publicado alguns anos depois sob a forma de livro: Evolução Urbana do Rio de Janeiro, que caminha agora para a sua quarta edição. Sem perceber, acabei fazendo nesse trabalho um pouco do que tinha aprendido na graduação, ou seja, que cabia ao geógrafo fazer sínteses das regiões (ou cidades) que estuda. A partir daí voltei a valorizar essa dimensão da pesquisa geográfica. Fazer sínteses não é a única contribuição que um geógrafo pode dar ao avanço do conhecimento, como pensavam muitos dos clássicos mas é, certamente, uma de suas contribuições importantes. A produção de trabalhos sobre o Rio de Janeiro sempre foi muito grande. Apesar disso, havia muitas lacunas que precisavam ser preenchidas. A mim coube preencher algumas delas. Ainda há muitas outras que demandam a atenção dos pesquisadores.
Geosul - E esta é a visão metodológica que você passa para seus orientados.
Prof. Maurício - Ao fazer aquele trabalho, recuperei a minha formação da graduação. E recuperei em um outro contexto, porque agora vou ter que falar da outra revolução paradigmática que estava acontecendo naquele momento. Veja, voltei do exterior com o título de doutor e com 27 anos e meio de idade. Quando comecei a dar aulas na UFRJ, havia apenas quatro doutores no departamento: Maria do Carmo Galvão, Bertha Becker, Jorge Xavier e Regina Mousinho. Muitos dos que foram meus professores de graduação obtiveram a sua pós-graduação depois de mim. Eu tinha meu título de doutor e era muito orgulhoso dele porque não tinha sido fácil consegui-lo. Retornei ao Brasil em meados de 1976, quando o pensamento marxista ganhava força na geografia, embora com bastante atraso em relação às outras ciências humanas. Como já disse, não estava envolvido com a universidade; trabalhava no IBAM. Ia à universidade apenas para dar meu curso sobre migrações. Mas aí veio a AGB de Fortaleza em 1978. Roberto Lobato, que trabalhava no IBGE e também lecionava como colaborador na UFRJ, tinha sido convidado para organizar uma mesa redonda sobre geografia urbana e me convidou para participar dela.. Eu não atentei que a mesa era apenas de geografia urbana e preparei um trabalho sobre a história do pensamento geográfico. Grande profissional que é, Lobato recusou o trabalho, dizendo-me que não era aquilo que seria discutido na mesa. Deu-me mais um mês para escrever um trabalho sobre urbana. Obedeci. Acabei enviando o outro trabalho para uma sessão de comunicação. E vim para Fortaleza. Aqui, em 78, o ambiente era de total ebulição. Milton Santos começava a refazer sua carreira acadêmica no Brasil e também iria participar da mesa organizada por Lobato. Os outros integrantes eram Olga Maria Buarque de Lima, geógrafa do IBGE, e Armen Mamigonian. Na realidade, todos nós complementávamos a mesa. Quem a multidão queria ouvir era Milton. Suas idéias mais recentes já começavam a circular entre os geógrafos e causavam furor naquele momento de “abertura política”. No meio disto tudo, eu me apresento pela primeira vez num congresso de geógrafos brasileiros e com uma bagagem não muito apreciada naquele momento: doutor por universidade norte-americana; profissional ligado ao planejamento; um geógrafo com formação neo-positivista. Foi a pior mesa redonda de que participei. Havia um verdadeiro frisson na sala. Mais de 400 pessoas se apertavam no auditório; todos aguardavam a fala de Milton com ansiedade. Eu estava tão nervoso que fui obrigado a ler meu texto; até hoje gosto muito dele, mas é óbvio que, naquele ambiente, meu trabalho não teve qualquer chance de agradar. Milton Santos foi o último a falar. Fazia a sua rentrée na comunidade geográfica brasileira. Além de apresentar algumas idéias que estavam no texto que havia enviado, falou sobre o que bem quis e foi, obviamente, ovacionado. Fiquei impressionado com o seu domínio de palco; aliás, ele era um mestre nisso também. Foi nessa ocasião que ele lançou o livro “Por uma Geografia Nova”. Olha, Fortaleza/1978 foi para mim uma experiência muito difícil, não só pelo que aconteceu na mesa redonda, mas também pelo que ocorreu depois que retornei ao Rio. Comecei a refletir muito sobre minha vida profissional. Estava no IBAM fazendo planejamento urbano e regional, mas não era mais disso que eu gostava. Tinha resolvido me apresentar à comunidade geográfica brasileira (só os geógrafos do Rio me conheciam), mas verifiquei que a geografia que eu fazia tinha virado a vilã da vez. Assim como a “geografia tradicional”, que eu havia aprendido nos anos sessenta, pouco tinha me servido nos EUA, agora o que me atormentava era perceber que toda aquela geografia que eu havia sofrido tanto para dominar nos EUA, também era equacionada a um conhecimento inútil. A ordem agora era ler Marx; era ali que encontraríamos a verdade, as bases da “geografia nova”. Eu fiquei meio encolhido durante alguns meses. De um lado, me recusava a começar tudo de novo, a desvalorizar minha formação. E me irritavam bastante alguns discursos que tinham tanto “ibope”naquele momento, pois achava que eram bons discursos políticos,adequados à conjuntura que estávamos vivendo, de exaustão do regime militar, mas que se sustentavam muito pouco como discursos científicos, com as exceções de praxe. Por outro lado, me incomodava também não dominar o discurso do momento. Até então, eu nunca tinha lido Marx, apesar de, nos Estados Unidos, ter tido acesso à nascente literatura geográfica que mais tarde ficou conhecida como “crítica”. Ainda hoje me lembro do curso de geografia política urbana que fiz, em 1973, com meu mestre Kevin Cox, através do qual fui apresentado às novas idéias que David Harvey lançava em seu “A Justiça Social e a Cidade”, que só muito mais tarde seria publicado no Brasil. Gostei tanto das temáticas que ele discutia, que escolhi a geografia política urbana como segunda área de concentração de meu doutorado (a primeira continuou sendo a do mestrado: desenvolvimento econômico e regional); nos EUA éramos obrigados a fazer dois exames de qualificação, um em cada área escolhida. Também foi nessa época que foi lançada a revista Antipode, que acompanhei no doutorado com bastante interesse. Em outras palavras, já conhecia alguns trabalhos acadêmicos de inspiração marxista, me interessava por eles, mas não tinha embarcado nesse barco. Fortaleza me obrigou a, pelo menos, corrigir erros de minha formação. Ao voltar para o Rio,resolvi que não podia ficar alheio ao que estava acontecendo na geografia brasileira. Naquela época, surgiram muitos grupos de leitura e discussão de O Capital. Tenho um amigo, Ivandro da Costa Salles, que já tinha uma sólida formação teórica marxista e que resolveu organizar um desses grupos. Decidi participar. De início, fiquei reticente. Achava que muitos dos conceitos que discutíamos ali eram diferentes na forma, mas não no conteúdo. Lembro-me bem das discussões que tive com Ivandro sobre o conceito de mais valia que, para mim, não era outra coisa senão o lucro da economia neoclássica. Ivandro era paciente comigo (e com os outros também). Falava que eu não tinha entendido; parecia igual, mas a construção teórica que levava ao conceito de mais valia era totalmente diferente. Um dia, numa de nossas discussões, deu um “clic” na minha cabeça e vi que ele tinha razão. Comecei então a ler mais a obra de Marx e passei a admirar suas construções teóricas. Vi também como elas eram importantes para entendermos o processo de produção do espaço geográfico. Foi realmente uma descoberta fundamental. Ao mesmo tempo, travei conhecimento com a obra de diversos autores marxistas, muitos dos quais admirei, mas boa parte deles achei demasiadamente herméticos, economicistas e deterministas (e, muitos deles, convenhamos, extremamente chatos). Foi nessa ocasião, quando já conseguia compreender melhor o novo paradigma que se instaurava na geografia, que tomei também uma grande decisão: não iria embarcar mais uma vez no paradigma do momento. O doutorado serve, sobretudo, para tornar uma pessoa auto-suficiente e auto-didata. Se minha formação tinha falhas graves, seria eu mesmo quem teria que sanar esses problemas. E foi o que fiz, sem renegar minhas formações anteriores. A partir daí, minha bagagem geográfica passou a ser a síntese de todas as minhas formações. Resgatei com intenso prazer a geografia clássica francesa que aprendi na graduação, não amaldiçoei a formação neo-positivista que obtive na pós-graduação (que, aliás, até hoje me permite ver como tem gente por aí que fala contra o neo-positivismo sem ter capacidade para fazê-lo) e acrescentei a esses dois aprendizados formais o que aprendi por auto-didatismo, seja no materialismo histórico e dialético, seja nas correntes fenomenológicas e culturalistas que se impuseram mais tarde na disciplina (cujos progressos acompanho meio de longe). Meu livro “Evolução Urbana do Rio de Janeiro” é o passo inicial dessa transformação. Embora a primeira edição tenha saído apenas em 1987, o texto foi produzido no segundo semestre de 1978, logo depois de Fortaleza. Ali já dá bem para ver como recuperei os trabalhos clássicos da geografia francesa, como fiz a crítica necessária a muitas teorias neo-positivistas e como minha geografia já começava a ser influenciada pela obra de Milton Santos e de outros autores marxistas (ou então marxistas) como Manuel Castells. Foi nessa época que o IBAM entrou numa grande crise financeira, pois os contratos que fazia com o Governo Federal não foram mais renovados por medida de contenção de despesas do governo Figueiredo, que então se iniciava. Durante seis meses não entrou um tostão novo no Centro de Pesquisas. Eu me ocupava com uma coisinha aqui, outra ali, e ganhava um alto salário. Com a falta de contratos, foi inevitável que a direção da instituição decidisse diminuir seu quadro de pessoal. Na primeira leva saíram dois; eu saí na segunda. De um lado, fiquei furioso com a demissão, mas por outro estava contentíssimo, porque era a possibilidade que eu tinha de entrar, finalmente, para a academia. Isso não aconteceu, entretanto, de imediato. O problema é que a academia me oferecia 30% a menos do que eu ganhava no IBAM e eu tinha acabado de comprar um apartamento, tinha muitas notas promissórias assinadas. Como também tinha sido convidado a reingressar no IBGE, que me oferecia, praticamente, o mesmo salário do IBAM, optei por essa última instituição. Mas, com as constantes mudanças políticas ocorrendo em Brasília, com ministros do Planejamento que não paravam no cargo, minha nomeação para o IBGE não saía nunca. Fiquei dois ou três meses desempregado. A universidade continuava me chamando. Até hoje não obtive resposta do IBGE. E aceitei ser professor visitante. Já havia um outro professor visitante trabalhando na UFRJ àquela época: ele se chamava Milton Santos.
Geosul - E como foi sua reaproximação com o Milton Santos?
Prof. Maurício – Foi aproximação, não reaproximação. Eu o conheci em Fortaleza e, depois disso, nunca mais o tinha visto. Ao entrar para UFRJ, entretanto, já tinha lido as suas obras mais recentes. A UFRJ foi a primeira universidade brasileira que contratou Milton Santos depois que ele voltou definitivamente ao país. Ele foi para lá no início de 1979. Eu fui contratado como professor visitante em novembro daquele mesmo ano. A princípio, minha relação com Milton foi difícil. Com a chegada de Milton Santos e de mim mesmo, o quadro de doutores da UFRJ havia aumentado em 50%. Como éramos poucos doutores, acabávamos participando de muitas coisas juntos, sejam bancas ou comissões. Ele era muito gentil comigo, mas havia sempre uma certa ironia quando conversávamos, principalmente porque só me chamava de professor-doutor; também não perdia uma oportunidade para fazer comentários, geralmente desabonadores, sobre a geografia que se fazia nos Estados Unidos, onde ele também havia trabalhado (mas não com os geógrafos). Enfim, havia um certo distanciamento polido. Eu não era considerado um integrante da geografia crítica que se impunha na geografia brasileira, mas tinha algo que poucos geógrafos brasileiros possuíam àquela época: um título de doutor, o que me dava enorme autonomia, tanto na universidade como fora dela. Milton tinha personalidade muito forte. Eu estava começando a carreira; ele já possuía um currículo invejável. Convidou-me para participar mais ativamente de seu grupo de pesquisa. Fui também chamado para participar dos grupos de outros professores. Tomei então outra decisão que, até hoje, considero muito certa, a de fazer minha carreira de forma independente, sem participar do grupo de pesquisa de ninguém. Afinal, eu era doutor e poderia muito bem fazer o que bem quisesse, contanto que tivesse produção científica de qualidade. Comecei a fazer meu trabalho de forma autônoma. Propus como projeto de pesquisa o aprofundamento do estudo sobre o Rio de Janeiro do passado que havia realizado no IBAM; a idéia agora era entrar nos arquivos, pesquisar as fontes primárias. Mas, voltando à sua questão, minha relação com Milton Santos mudou da água para o vinho quando deixei de ficar acuado por ele e o enfrentei. Lembro-me que isso aconteceu depois de um exame de qualificação de mestrado (ou teria sido uma reunião de departamento?). Milton, Regina Mousinho e eu permanecemos na sala e ficamos jogando conversa fora. Foi aí que ele começou a reclamar que os alunos não mais respeitavam as hierarquias, que tinha sido um erro acabar com as cátedras, etc. Eu contra-argumentei que também havia problemas com os catedráticos, pois muitos deles não davam aulas, ou alguma coisa assim. Ele ficou surpreso com minha reação e reproduziu o que eu tinha falado, só que usou suas próprias palavras. Ele já havia feito isso comigo mas eu não tinha percebido bem ou não tinha tido a coragem de replicar. Mas nesse dia consegui perceber como ele estava desconstruindo e reconstruindo a minha fala. E fiquei com muita raiva; falei que não admitia que ele pegasse as minhas palavras e fizesse o discurso que lhe apetecia. Bati com a mão na mesa. Ao esmo tempo, percebi que estava exagerando na minha “performance”, que estava fazendo uma encenação. E que estava gostando daquilo! Milton ficou surpreso com minha reação e disse que eu não havia compreendido bem o que ele quis dizer. A Regina, por outro lado, estava sem saber o que falar, pois nunca tinha me visto tão alterado. A partir daí nossa relação mudou. Coincidência ou não, ele parou de me chamar de professor-douto e, logo depois, começamos a participar de forma menos tensa das atividades do departamento. Pouco tempo depois, solicitou um trabalho que eu havia escrito para publicar numa coletânea de artigos que estava organizando. Passei também a freqüentar a sua casa. Pouco depois se transferiu para a USP. Com o tempo acabamos virando amigos, sem jamais termos tido muita intimidade. Eu gostava muito dele e sempre o admirei muito Considero Milton Santos o maior geógrafo que o Brasil já produziu. A sua perda é irreparável. Quando fiz pós-doutorado em Paris, em 1994-1995, ele também estava lá, escrevendo “A Natureza do Espaço”. Foi uma época muito agradável, de troca de idéias científicas e de conversas informais. Nossos objetivos de pesquisa eram distintos, mas seus trabalhos teóricos sempre foram importantes para a orientação de meus estudos. Nossa maior discordância era em relação à geografia histórica. Isso porque, no fundo, Milton nunca deixou de se aliar à proposta da geografia clássica, sobretudo a francesa, de que a geografia devia estudar apenas o presente e que o passado só devia ser escarafunchado com o intuito de buscarmos ali explicações sobre o presente. Essa não é a minha posição e já escrevi sobre isso.
Geosul - Esta é uma contribuição importante para a geografia brasileira, e ao mesmo tempo mostra que podem ser feitos trabalhos diferentes sem estar atrelado a uma corrente
Prof. Maurício - Eu sou uma síntese de todas as minhas formações. Acredito que a geografia que faço reflete bem isso, tanto em suas qualidades como em suas deficiências. Mas é a geografia que faço. Repito o que o Roberto Lobato falou em sua entrevista a Expressões Geográficas. Uma coisa é você acompanhar as modas; isso não é cientificamente correto. Outra coisa é mudar por imperativo intelectual, porque seu crescimento profissional chegou a um ponto em que você está insatisfeito com as matrizes que orientam o seu trabalho. Quando isso acontece, buscamos outras matrizes, que nos dêem melhores respostas, ou, em muitos casos, integramos essas matrizes de forma coerente e não contraditória, se isto é possível. Mudar com densidade é uma atitude totalmente defensável e correta. Mas não tenho nada contra aqueles que se mantêm fiéis a suas antigas matrizes, a não ser quando se recusam a dialogar com os que pensam diferente. O importante é que você esteja bem com o que faz e que o faça com densidade.
Geosul - E hoje na geografia brasileira pode-se dizer que há uma escola de geografia histórica, do Mauricio de Abreu, que é extremamente importante, principalmente no Rio de Janeiro.
Prof. Maurício - Eu tive que aprender muitas coisas novas na vida. Todo o meu aprendizado de geografia histórica foi fruto de esforço próprio. Não aprendi nada disso na graduação ou na pós-graduação. Acho que a geografia tem muitas questões a fazer ao passado. E são questões geográficas, que ainda precisam de respostas, pois os historiadores não as formulam. Uma coisa que me incomodava até pouco tempo atrás é que eu não tinha quase diálogo com meus colegas. Todos achavam muito interessante o que eu fazia, mas era como se eu falasse grego. Em razão disso, ficávamos nos observando, nos admirando mutuamente, mas não havia muito debate. Agora as coisas estão mudando. Existe uma crescente massa crítica. Há quinze anos atrás, éramos quase que apenas dois geógrafos com interesse nessa área: Pedro Vasconcelos e eu. Hoje, basta ver os programas dos eventos científicos para verificar como o interesse pela geografia histórica é crescente, o que não quer dizer que haja um grande número de pesquisadores envolvidos. Quanto a “escolas”, elas definitivamente não existem. Não há escola de geografia histórica no Brasil e nem eu tenho pretensão de fundar qualquer uma. Apesar dos avanços, a geografia histórica brasileira ainda está engatinhando. De minha parte, apenas contribuo para que ela se afirme cada vez mais no país. Tenho a satisfação de já ter formado um Núcleo de Pesquisa de Geografia Histórica na UFRJ, que vem apresentando produção científica crescente.
Geosul - E tem também a sua participação em órgãos como a CAPES.
Prof. Maurício – A vida profissional geralmente exige que as pessoas assumam, de quando em quando, cargos de representação. Na maioria das vezes, são tarefas extremamente desgastantes, que pouco ou nada acrescentam ao seu currículo e que nem sempre são compreendidas pelos colegas, mas que precisam ser realizadas por profissionais experientes. Já fui representante da área de Geografia Humana no CNPq por duas vezes e, na Capes, fui representante da área de Geografia e da Grande Área de Ciências Humanas no último triênio de avaliação. Tenho a satisfação de dizer que minhas indicações para esses cargos de representação sempre foram produto de consulta aos meus pares, ou seja, fui eleito pelos colegas para exercer essas funções. A participação que tive na Capes exigiria outra entrevista, tantas foram as experiências que vivi ali. Só gostaria de dizer aqui que é uma função muito importante e que exige muita dedicação de quem a assume, pois as decisões ali tomadas afetam todo o corpo da pós-graduação brasileira. Enquanto fui representante de área – e mesmo antes, quando era apenas um membro da comissão presidida por Lucia Gerardi – tive a oportunidade de conhecer a fundo a pós-graduação brasileira de geografia. Devo dizer que fiquei surpreso ao ver quanta coisa boa se faz pelo Brasil a fora, quantos profissionais competentes e dedicados existem nas universidades brasileiras, quantos esforços são feitos para elevar a qualidade da docência e da pesquisa no país. Ao mesmo tempo, é inacreditável que os governos que sustentam os programas de pós-graduação permitam que a maioria das bibliotecas que servem a esses mesmos programas continuem a ser tão deficientes como são. Há certas bibliotecas que são um desastre em termos de qualidade do acervo, nem mesmo apropriadas para escolas de segundo grau. Mas isso é outra estória, que exigiria que enveredássemos por outros caminhos.
Geosul - A Comissão Editorial agradece a sua disposição em ceder algumas horas do seu tempo durante o encontro da ANPEGE para a realização desta entrevista. Muitíssimo obrigado.
Professor Titular de Geografia – UFRJ. Entrevista realizada por ocasião do Encontro da ANPEGE, em Fortaleza, em 29/09/05 e que teve a participação dos professores Luiz Fernando Scheibe, Ewerton Vieira Machado, Sandra M. de A. Furtado e Maria Dolores Buss. Texto revisado e autorizado pelo entrevistado (abreu@acd.ufrj.br).
Geosul, Florianópolis, v. 21, n. 41, p 193-225, jan./jun. 2006
 Apresentação
Apresentação